Doutrina: direito ou dever de apontar os erros do STF?
![Caricatura Lenio Streck [Spacca]](http://s.conjur.com.br/img/b/caricatura-lenio-streck1.png) Nota propedêutica
Nota propedêuticaÉ de todos conhecida a cena do filme
Dossiê Pelicano, quando a personagem vivida pela atriz Julia Roberts contesta seu professor, depois deste “achar normal” que a
US Supreme Court considerasse constitucional a criminalização da sodomia
[1] pelo estado da Geórgia: “— A Suprema Corte errou”, diz ela. Eis o “fator Julia Roberts”, aqui já delineado em outras colunas.
Ou seja, é necessário dizer quando a Corte Suprema de um país erra. Para que ela não continue errando. É dever da doutrina. As palavras não refletem a essência das coisas, sabemos. A palavra água não molha. Nem a palavra bomba explode. Mas a palavra “doutrina”... deveria significar que-a-doutrina-doutrina.
Explicando o problema concretoA Constituição do Brasil, em seu artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, estabelece que “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processo e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)”.
Pois bem. Ao ser ajuizada a Ação Ordinária 1.706-DF na Suprema Corte, a União Federal postula a declaração da nulidade da decisão do CNJ em um determinado Processo de Controle Administrativo (PCA), na parte em que considerou legais os pagamentos efetivados pelo STJ e pela Justiça Federal a seus servidores em desacordo com o Acórdão 582/2003 do TCU, a fim de que os processos individuais de cobrança retomem os seus respectivos cursos. No entanto, a discussão voltou-se para uma questão de ordem processual precedente à análise do mérito da demanda. E então a coisa complica.
Conforme o decisório do STF em Agravo Regimental, a sua competência originária no que tange às causas de impugnação a deliberações emanadas do CNJ alcança tão somente “as hipóteses de impetração, contra referido órgão do Poder Judiciário (CNJ), de mandado de segurança, de habeas data, de habeas corpus (quando for o caso) ou de mandado de injunção, pois, em tal situação, o CNJ qualificar-se-á como órgão coator impregnado de legitimação passiva ‘ad causam’ para figurar na relação processual instaurada com a impetração originária, perante a Suprema Corte, daqueles ‘writs’ constitucionais”.
Para tais casos, entendeu a Suprema Corte que o CNJ, “por ser órgão não personificado, define-se como simples ‘parte formal’, revestido de mera ‘personalidade judiciária’, achando-se investido, por efeito de tal condição, da capacidade de ser parte, circunstância essa que plenamente legitima a sua participação em mencionadas causas mandamentais”.
Ou seja, tratando-se de ações originárias que tem como sujeito passivo o CNJ (como no caso da Ação Ordinária sob comento, mas existem outras ações
[2]), entende o Supremo que não se configura a sua competência originária. Para ele, nas hipóteses não compreendidas no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘q’, da Constituição, a legitimação passiva ‘
ad causam’ referir-se-á, exclusivamente, à União Federal, pelo fato de as deliberações do Conselho Nacional de Justiça serem juridicamente imputáveis à própria União Federal, que é o ente de direito público em cuja estrutura institucional se acha integrado o CNJ.
Refira-se que esse entendimento que não reconhece a competência originária do STF para processar e julgar ações ajuizadas contra o CNJ — exceto os casos do artigo 102, alíneas ‘d’ e ‘q’ — e, portanto, torna competente para processar e julgar as demais causas a justiça federal comum, tem sido reafirmado em outros julgamentos do próprio Supremo.
Pergunto: Seria a União contra a União? Por certo, há sobejadas razões de ordem pragmática que conduzam a esse entendimento do STF. Mas não é disso que se trata. Na verdade, como demonstrarei a seguir, está em jogo algo maior, que a força normativa da Constituição.
Crítica ao entendimento do STFDo que se viu acima, o caso é simples. O STF declinou de sua competência para julgar ações do CNJ, dizendo, mutatis, mutandis, que onde está escrito “ações” contra o CNJ (art. 102, I, r da CR/88), isto não quer dizer “ações”, mas apenas quer dizer que o Supremo deve julgar MS, MI e HC. Exatamente assim.
Mas, como isso é possível, hermeneuticamente falando? Eis a questão. A começar: o que fazer com as alíneas "d", "i" e "q" do mesmo artigo, que tem redação explícita sobre quais ações cabem? Ou seja, se o constituinte quisesse restringir as ações contra o CNJ, o teria feito como nas demais alíneas. Trata-se, aqui, daquilo sobre o qual venho escrevendo de há muito: os limites semânticos da Constituição não estão sendo respeitados (isso já aconteceu outras vezes, valendo lembrar o caso do art. 52, X, da CF — mas esse é um assunto para outra coluna). Aliás, aqui (até) podemos “jogar” com a questão do querer (ou do não querer) do legislador constituinte. Trata-se — e sei disso — de um argumento hermeneuticamente não vinculativo. Entretanto, por vezes, é preciso ter claro e se render ao fato de que o texto aponta tão nitidamente para algo que se torna impossível ignorar esses indícios de sentido. Como diz Gadamer, se você quer dizer algo sobre um texto, deixe, primeiro, que o texto lhe diga algo! E aqui parece que o “dedo do texto” aponta para algo bem explícito...
Não se trata, obviamente, de defender literalidades como se estivéssemos no século XIX.
[3] Aliás, nem cabe, no plano da hermenêutica que professo, discutir sintática e semântica no sentido do positivismo tradicional. Já escrevi muito sobre isso e agora deixo isso ainda mais claro no novo livro
Lições de Crítica Hermenêutica do Direito (Livraria do Advogado, 2014). Não gostaria que algum leitor viesse de novo a falar sobre “originalismo” e “exegese”, etc. Como se diz em espanhol, isso fica
aburrido (se a filosofia fosse o espelho da natureza, a palavra
aburrido conteria uma essência de aburrinhêz!). Aliás, respondo a esse tipo de argumento em um capítulo do livro
Compreender Direito Vol 1 (RT, 2013), denominado
E a professora me disse –
você é um positivista. Portanto, o problema não reside nisso e, sim, nos limites da interpretação. Os limites do sentido e o sentido dos limites. Bingo. Trata-se de discutir sobre o que pode e o que não pode o judiciário (e em especial, o STF) dizer e fazer.
Ora, a redação do artigo 102, inciso I, alínea r, da Lei Maior, não é ambígua e tampouco vaga. Naquilo que a tradição — e uso a palavra no sentido da hermenêutica — estabelece de sentido a partir das práticas sociais,
[4] não é difícil entender os limites do que quer dizer a Constituição quando estabelece que compete ao STJ processar e julgar “as ações contra o CNJ”.
De que modo um hermeneuta pode concluir que “onde está escrito ‘ações contra o CNJ’ não se incluem ações ordinárias, apenas as mandamentais”? Trata-se de um caso de jurisdição contra constituição? Com toda a vênia —
concesa ou não — essa interpretação do Supremo Tribunal compromete a ossatura
[5] do texto constitucional, a lógica do sistema constitucional, além de quebrar a ordem e a hierarquia constitucionalmente prevista no artigo 103-B.
Por fim, é incorreto também o argumento do STF que o levou à conclusão para declinar a competência, isto é, como o CNJ não é pessoa jurídica de direito público, a União Federal responde por ele e a União responde no primeiro grau, não no STF.
Mas, ainda não estou satisfeito. Veja-se o surrealismo que isso acima relatado gera: ao invés de entrar com Mandado de Segurança contra o CNJ, o interessado entra com Ação Ordinária, que estaria na competência da Justiça Federal de primeiro grau, segundo esse entendimento do STF. Daí o paradoxo (e paradoxos são coisas das quais não se pode sair): o CNJ que é órgão de cúpula, julga até ministros do STJ e, a vingar a tese do STF, tem seus atos sujeitos à fiscalização de juiz de primeiro grau! E aí vem a consequência: o fiscalizador é julgado pelo fiscalizado.
Imaginemos a decisão do Corregedor Geral de Justiça — que é Ministro do STJ — que foi referendada pelo Plenário do CNJ e que determina o afastamento de um presidente de Tribunal de Justiça por improbidade ou ainda o caso de um Tribunal da Federação — no caso, o do Paraná — em que o CNJ proibiu o referido TJ de repassar o dinheiro dos fundos depositados para o Governo do Estado. A jurisdição é do primeiro grau?
Por que os votos do STF não falam do texto da Constituição?Ao que se pode alcançar em termos de pesquisa sobre a tese (discussão) em pauta, tem-se que os ministros Marco Aurélio (veja-se a ainda não julgada AO 1.814), Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Luiz Fux (os três primeiros não estavam presentes na decisão do AR ora sob comento) posicionam-se pela não declinação de competência. São, portanto, minoria. No caso da ministra Carmem Lucia, ela votou pela incompetência do STF, mas posteriormente, mudou de posição dizendo que era competente na Recl 15.551-GO (proferida em 10.02.2014) e depois alterou novamente sua posição. A posição mais contundente pela competência do STF é a do ministro Gilmar Mendes, que pode ser lida em seu voto na decisão do RE 744.590, julgado em 21 de junho de 2013.
De todo modo, penso que a nossa Suprema Corte poderia se fixar mais na discussão sobre os limites da dicção do texto constitucional. Afinal, sempre se diz que qualquer interpretação começa no e com o texto. E textos são eventos, são fatos; não são abstrações. Claro que o texto não é tudo. Mas também não pode ser um “nada”. Por isso, a minha pergunta: qual é o problema de entender que há uma sinonímia entre o que diz o texto constitucional e o sentido que a ele deve ser dado? No Estado Democrático, sinonímias são muito bem vindas, pois não?
Os limites da interpretação e a democraciaHá um debate e um dilema na contemporaneidade. O debate: jurisdição constitucional (decorrente do constitucionalismo) e democracia. Há compatibilidade? Penso que sim. E qual é o dilema? Simples: ele exsurge do fato de que, se há compatibilidade, a jurisdição constitucional não pode se sobrepor à legislação democraticamente votada e que não seja incompatível com a Constituição. Portanto, se a jurisdição “construir” novos textos, não estará fazendo interpretação e tampouco mutação, mas, sim, substituindo-se ao poder constituinte. Logo, a demo-cracia se transformará em jurisdicio-cracia.
Lembro que na coluna
O STF e o Pomo de Ouro (
ler aqui) falei amiúde a esse respeito. Importamos indevidamente cinco teses (jurisprudência dos valores, teoria da argumentação, ativismo norte-americano, métodos de Savigny e o neoconstitucionalismo, problemática que também já
analisei aqui). Isso fez com que talvez tenhamos perdido — e somos todos culpados, e não me excluo do conjunto desses enunciados — os limites das relações entre os Poderes e as fronteiras hermenêuticas que fazem a diferença (e não cisão) entre texto e norma (lei e sentido da lei, exsurgente da concretude).
O caso acima relatado pode até não ser relevante na sua leitura individual e solitária. Mas seu aspecto simbólico é transcendente. Real por excelência, simbólico na sua “essência”, diria Castoriadis.
Nos dias de hoje, poucos ainda acham que é possível “colar” significante e significado ou “lei e direito” (ou, ainda, texto e norma). Isso seria fazer uma espécie de psicopatia a-hermeneutica. Se isso fosse possível, por exemplo, o prazo de 48 horas para o preparo para o recurso na Lei dos Juizados, caindo no domingo, tornaria deserto o recurso. E uma lei que dissesse que é proibido carregar cães na plataforma, impediria um cego de levar o seu cão-guia (para usar um velho exemplo de Siches). E um menino, comprando um picolé, arrasaria o conceito de contrato, pois não? Afinal, ele não é parte capaz...
Mas — atenção — por outro lado também não se pode “descolar” texto e norma (a não ser no caso de inconstitucionalidade, é claro). “Descolar” texto e norma significa pagar pedágio ao mais simples pragmati(ci)smo. É se render a uma espécie de neo-sofismo ou neo-nominalismo (peço desculpas aos reclamantes de sempre, mas não dá para escrever isso de forma facilitada, simplificada ou plastificada). Ativismos e decisionismos dependem, exatamente, do-descolamento-da-norma-do-seu-texto (qualquer dúvida, sugiro a leitura das seis hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar um texto legal, em
Jurisdição e Decisão Jurídica, RT, 2013).
[6] Texto e norma são diferentes, porque há uma diferença ontológica (
ontologische Differenz) — no sentido hermenêutico da palavra, é claro — entre eles. Diferentes, sim; mas não cindidos. E nem colados.
Ora, se o direito (ou seja, a norma, que, segundo Müller e Gadamer, é sempre applicatio) é o que o STF diz que é, então ele — o STF — pode desplugar a norma do texto livremente. E pode fazer o texto virar “um nada”. Logo, por exemplo, ele pode dizer que “onde a CF não fala da possibilidade de o STF examinar inconstitucionalidades via controle concentrado de lei municipal, leia-se que o STF pode examinar” (antes que alguém reclame, não estou me referindo à ADPF). E assim por diante. E o STJ pode “construir”, à vontade, hipóteses de liberação de FGTS. Basta querer... E um Juiz pode estabelecer o número (mínimo e máximo) de folhas que uma petição pode conter. E o guarda pode me multar segundo seu arbítrio. E, assim, chegamos a outro paradoxo: se tudo pode, nada pode. Se tudo é, nada é!
Por isso, minha insistência contra o uso de argumentos meta-jurídicos ou coisas desse quilate. Um argumento moral (ou meta-jurídico) é irmão gêmeo do decisionismo. E da não-democracia. É como o pamprincipiologismo. Eu invento um princípio e passo a valer mais do que o parlamento. Simples assim.
E, por favor, entendam-me: isso não é implicância minha. É apenas compromisso com a democracia. Isso não quer dizer que outros, que pensam diferente de mim, não estejam comprometidos com a democracia. Apenas explicito o lugar de minha fala. E a hermenêutica não quer ser a Rússia tomando o território da Crimeia ou da Ucrânia. Hermenêutica, ao contrário de qualquer perspectiva imperialista, de invasão de sentidos, é conservadora. Ou seja, quer, sim, conservar a “ossatura constitucional”. Nela está implícito muito mais que o mero texto, ou seja, nela está a construção social da cidadania e do Estado Democrático. Que não pode depender de alguns. Mesmo que seja um Supremo Tribunal.
Numa palavraA interpretação que o STF deu ao dispositivo em tela está equivocada. O Supremo Tribunal não dispõe do texto constitucional. A prevalecer esse entendimento do STF — que, efetivamente, pode ser enquadrado naquilo que se chama de “jurisprudência defensiva”, de nítido caráter consequencialista — permite-se (e permitir-se-á) aos afetados que escolham a jurisdição que lhes convém apenas com a troca do nomen iuris da ação. Assim, aperte a tecla Mandado de Segurança para competência do STF. Se não lhe convier, aperte a tecla Ação Ordinária para Justiça Federal de primeiro grau.
A questão, portanto, é saber que tipo de jurisdição constitucional queremos. Uma jurisdição que obedeça a força normativa da Constituição, a coerência e a integridade do direito tem muito mais condições de garantir a democracia do que decisões pragmáticas e a construção de jurisprudência(s) defensiva(s). Se hoje é possível dizer que onde está escrito x leia-se y, o que impede que amanhã se diga que “onde está escrito n, leia p? Passado um tempo, todas as letras estarão trocadas... se me entendem a alegoria (ou metáfora).
[1] Colunas não tem espaço para explicitar o caso. Recomendo a leitura do original (478 U.S. 186 (1986), do caso
Bowers v Hardwick. Dezessete anos depois, a Suprema Corte mudou de ideia, agora por 6x3. Desta vez, disse ser inconstitucional. No livro
Crime e Constituição (Forense, 2003), Luciano Feldens e eu explicamos o caso amiúde.
[2] Por todas, ver ACO 1.733/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – ACO 1.734/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – Pet 4.309-TA/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 4.404/DF, Rel. Min. EROS GRAU – Pet 4.492/DF, Rel. Min. EROS GRAU – Pet 4.571-MC/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
[3] E nem se trata de falar do mérito da tal Ação Ordinária. Como Victor Hugo em
Os últimos Dias de um Condenado, a questão é de princípio.
[4] Poderia falar também em um a priori compartilhado pela comunidade jurídica. Qualquer um sabe o que quer dizer determinada coisa que usamos cotidianamente e sobre a qual nem nos perguntamos. É uma espécie de “senso comum positivo”. Sei o que legítima defesa. Posso discutir em um caso concreto os seus limites. De “longe” já sei o que a “coisa legítima defesa”. Mas com certeza sei também o que não é uma legitima defesa. E assim por diante.
[5] Ossatura, aqui, é uma nomenclatura que rende, de certa maneira, homenagem à Poulantzas. É que o texto constitucional, em determinadas condições, tem (ou deve ter na democracia constitucional) uma força normativa resultante de uma objetividade mínima (materialidade) exsurgente das condições políticas e jurídicas que regem as relações simbólicas de poder. Ou seja, ele passa a ter e fazer parte de uma ossatura juspolítica que não está a disposição de alguém em particular. No fundo, é o que caracteriza a noção de princípio como um padrão que rege. Por isso é deontológico.
[6] Um bom exemplo é perguntar, a partir das seis hipóteses que venho propondo: O que fazer com o art. 106 do Regimento Interno do CNJ? Tem força de lei complementar, é válido e vigente. Foi questionado pela AMB na ADI 4.412/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, mas não foi suspendido cautelarmente. Dispõe o art. 106 do RICNJ: “
Art. 106. O CNJ determinará à autoridade recalcitrante, sob as cominações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal”. Trocando em miúdos, a regra significa que todos os juízes e tribunais, com exceção do Supremo Tribunal Federal, estão submetidos à autoridade das decisões do Conselho Nacional de Justiça. O preâmbulo do RICNJ não deixa dúvida quanto a sua força de lei, visto que disciplina diretamente dispositivo de caráter constitucional: “
o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na forma do art. 5º, § 2º da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, tem natureza e força de lei complementar.
Revista Consultor Jurídico, 24 de abril de 2014
![Caricatura Lenio Streck [Spacca]](http://s.conjur.com.br/img/b/caricatura-lenio-streck1.png) Nota propedêuticaÉ de todos conhecida a cena do filme Dossiê Pelicano, quando a personagem vivida pela atriz Julia Roberts contesta seu professor, depois deste “achar normal” que a US Supreme Court considerasse constitucional a criminalização da sodomia
Nota propedêuticaÉ de todos conhecida a cena do filme Dossiê Pelicano, quando a personagem vivida pela atriz Julia Roberts contesta seu professor, depois deste “achar normal” que a US Supreme Court considerasse constitucional a criminalização da sodomia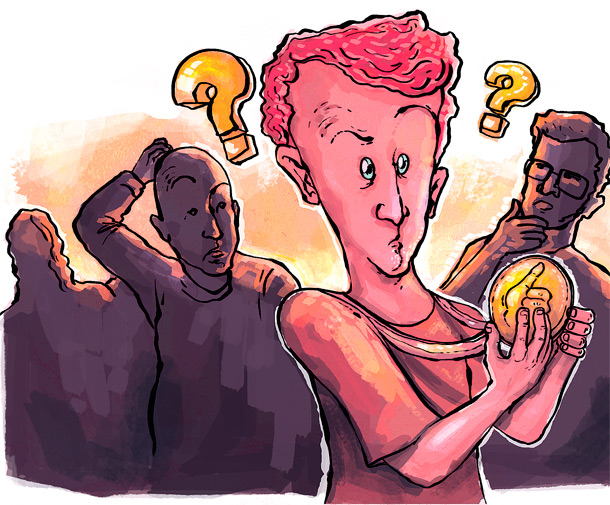 Pesquisa revela que, embora o banco de dados esteja em vigor há oito meses, falta clareza sobre o seu funcionamento e os seus benefícios
Pesquisa revela que, embora o banco de dados esteja em vigor há oito meses, falta clareza sobre o seu funcionamento e os seus benefícios Preferindo prestigiar o velho instituto de origem lusitana — e sem qualquer justificativa plausível —, foi o recurso de embargos infringentes acolhido na atual legislação processual civil em vigor.
Preferindo prestigiar o velho instituto de origem lusitana — e sem qualquer justificativa plausível —, foi o recurso de embargos infringentes acolhido na atual legislação processual civil em vigor.